Crimes quase verdadeiros
Os limites entre a ficção e o jornalismo
ficaram cada vez mais tênues desde o início do século XX. Sem entrar no campo do
jornalismo literário, aquele que traz à tona as histórias além da notícia, mas
que não ultrapassa as barreiras da realidade, a ficção tem se apropriado da
objetividade em narrativas que misturam estilos, buscando apresentar diferentes
pontos de vista ao leitor. Um dos gêneros mais populares no mundo – e de
modesta repercussão no mercado brasileiro -, o thriller, sobrevive dessa mescla de noticiário para desenvolver
personagens ambíguos (sem ambiguidade, não existe suspense) e desvendar crimes.
Buscar inspiração na realidade é próprio da
literatura, porém a forma de tratar a ficção como fato verídico é que traz um
novo sabor em textos como Rio Vermelho (Faro Editorial, R$
39,90), que garantiu à britânica Amy Lloyd o prêmio de melhor romance de
estreia Daily Mail/Penguin House, selecionado por um júri de especialistas em
histórias de suspense. Mais do que a
forma – já conhecidíssima – de mesclar à narrativa trechos de noticiário
ficcional para contar a saga de uma mulher que se apaixona pelo acusado de um
crime, o tema é objeto de estudos sociológicos e de vasta abordagem
jornalística. A protagonista é Samantha, uma inglesa solitária que luta para
provar a inocência do homem que cumpre pena numa cadeia da Flórida pelo brutal
assassinato de uma menina. Uma aproximação comum a tantas outras mulheres, que
enviam cartas e forçam intimidade com detentos, fascinadas pelo desafio de recuperar
socialmente alguém que foi injustamente acusado.
A trajetória de Samantha parece com a de Lorri
Davis, que se interessou pelo badalado caso de Damon Echols, condenado com mais
dois adolescentes, em 1994, pelo assassinato de três meninos de oito anos, no
Arkansas. Lorri, que se casou com Damon na cadeia, em 1999, participou
ativamente da campanha para demonstrar a ausência de provas contra o marido e
os dois amigos. Em Nó
do Diabo (Record, R$ 55), a jornalista Mara Levitt faz uma minuciosa
reconstituição do processo, demonstrando o quanto o pré-julgamento sobre os
hábitos pouco convencionais de três rapazes levou-os à condenação. Depois de 18
anos presos, o trio foi liberado por ausências de provas devido ao clamor
público em favor deles, que tiveram apoio de artistas de cinema, depois do
lançamento de um documentário sobre o caso, inspirando um filme do cineasta
Atom Egoyan.
 Sem evocar a realidade, C.L. Taylor traz em A
farsa (Bertrand Brasil, 49,90) o que diversos escritores, entre eles
Paul Theroux, com A Suíte Elefanta (Alfaguara, R$ 39,90), e Alex Garland, com A
praia ( Rocco, R$ 60), apresentaram: a desmistificação da aura de
santidade de retiros espirituais do Oriente. Longe de comparar Taylor a
Theroux, em seu conto sobre o desencanto de um casal de americanos com a
realidade na Índia, ou a Garland, que mostra os desencontros de uma comunidade hippie
numa ilha escondida na Tailândia, este thriller
cresce tremendamente quando se detém nas passagens que levarão ao crime, tendo
um retiro no Nepal como cenário. O desenvolvimento rasteiro de personagens adultos
com mentalidades adolescentes, no entanto, compromete a trama, que parece mais
apropriada a um filme de suspense sobre jovens ocidentais em férias. A
farsa, contudo, não ludibria o leitor que gosta de um bom suspense: é impossível
deixar o livro de lado antes de descobrir o culpado pelas atrocidades
cometidas.
Sem evocar a realidade, C.L. Taylor traz em A
farsa (Bertrand Brasil, 49,90) o que diversos escritores, entre eles
Paul Theroux, com A Suíte Elefanta (Alfaguara, R$ 39,90), e Alex Garland, com A
praia ( Rocco, R$ 60), apresentaram: a desmistificação da aura de
santidade de retiros espirituais do Oriente. Longe de comparar Taylor a
Theroux, em seu conto sobre o desencanto de um casal de americanos com a
realidade na Índia, ou a Garland, que mostra os desencontros de uma comunidade hippie
numa ilha escondida na Tailândia, este thriller
cresce tremendamente quando se detém nas passagens que levarão ao crime, tendo
um retiro no Nepal como cenário. O desenvolvimento rasteiro de personagens adultos
com mentalidades adolescentes, no entanto, compromete a trama, que parece mais
apropriada a um filme de suspense sobre jovens ocidentais em férias. A
farsa, contudo, não ludibria o leitor que gosta de um bom suspense: é impossível
deixar o livro de lado antes de descobrir o culpado pelas atrocidades
cometidas. 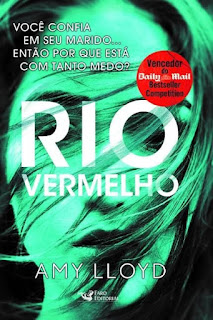

Comentários
Postar um comentário